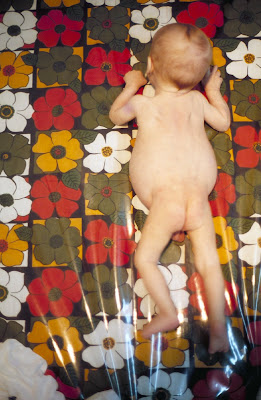Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto
Introdução
No
início do século XIX, a maioria dos países continentais europeus,
encontravam-se sob a liderança e o comando de Napoleão Bonaparte. A França e
metade da Alemanha, faziam parte de uma nova estrutura geopolítica denominada
“Rheinbund”. Nesta ocasião Napoleão planejava invadir o Reino Unido, mas após
haver perdido a Batalha de Trafalgar, em 1805, ele desistiu desse plano. Em contrapartida,
Napoleão declarou um bloqueio continental em seu “Berlim decree” em 1806, contra a importação de quaisquer produtos
ingleses, e ao mesmo tempo isolou o Reino Unido por meio de um enorme bloqueio
econômico. A escassez alcançou a
negociação de muitos produtos, um dos quais foi a cana-de-açúcar. O preço do
açúcar tornou-se muito elevado e isso acarretou a busca em toda a Europa por
fontes alternativas deste produto. A partir desta grande dificuldade foram propostas
algumas alternativas para solucionar o problema, o que deu origem a duas
estratégias que se tornaram exitosas: a primeira delas foi a busca de plantas
alternativas que contivessem açúcar e, a segunda, foi a tentativa de se
provocar a quebra do amido para a obtenção do açúcar. Considerando-se a
primeira estratégia investigadores conseguiram converter o açúcar da beterraba
em produção industrial. Em 1747, o químico alemão Andreas Marggraf, em Berlim,
havia descoberto que a beterraba continha um elevado teor de açúcar. Seu
sucessor, Franz Achard, converteu este conceito em produção industrial de
açúcar a partir da beterraba. Ele conseguiu convencer o rei Wilhelm III para
financiar seu projeto de construção da primeira fábrica na Prússia, na qual o
açúcar passou a ser produzido a partir da beterraba. Em 1802, os primeiros
produtos foram disponibilizados para o consumo, porém, esta estratégia não
reverteu a escassez de açúcar no país.
A
segunda estratégia foi a busca pela obtenção de açúcar em outras fontes, isto
é, por meio de um tratamento químico ou enzimático do amido. O farmacêutico alemão
Konstantin Kirchhoff, trabalhando em São Petersburgo, descobriu que a hidrólise
ácida do amido, produzia açúcar por meio do uso de ácido sulfúrico diluído.
Esse método foi descrito em detalhes em agosto de 1811, e era capaz de a partir
de 45kg de batata produzir 22kg de xarope e 9kg de açúcar sólido. A sua
publicação ganhou grande reconhecimento público na Europa e a indústria
açucareira adotou seu método.
Anselmo
Payen, um químico francês, descobriu em 1833 uma substância que era capaz de
converter o amido em glicose a partir de um extrato de malte, o qual ele
denominou diastase. Ele denominou diastase porque ele pensou que o açúcar
poderia ser produzido a partir do amido. Entretanto, mais tarde soube-se que a diastase,
na realidade, era a alfa-amilase, a qual se tornou a primeira enzima e a
primeira maltase descoberta pela ciência. Posteriormente, Payen tornou-se
mundialmente famoso por ter descoberto a celulose.
O
nome enzima foi cunhado em 1876, pelo fisiologista alemão Frederic Kuhne, que
havia descoberto a enzima tripsina presente na secreção pancreática.
Ambas
as estratégias, ou seja, a hidrolise ácida do amido e a digestão enzimática do
amido, tornaram-se a base tecnológica da indústria do amido nos séculos XX e
XXI. A extração do açúcar pelo açúcar da beterraba, permitiu que a Europa se
tornasse independente da importação da cana de açúcar.
O
emprego do amido na alimentação do lactente, somente passou a ter uma proporção
significativa, nos últimos anos do século XVIII, posto que até aquela data, o
aleitamento natural era a opção salva-vidas dos lactentes. Foi a partir desta
época que um alimento denominado “panada”, foi primeiramente mencionado no
contexto da “ama seca”. Nesta mesma época, uma outra opção foi a utilização de
leite de vaca diluído em uma solução de cevada, e aquecida. Foi então que já
neste momento histórico, foi conhecido que o amido possuía uma afinidade pela
água, e que, quando aquecido com agitação, sofria um inchaço irreversível, agindo
como um espessante para um determinado líquido.
Alternativas
para a alimentação do lactente não sofreram um progresso significativo até
quando surgiram os primeiros relatos comparando a composição do leite de vaca
com o leite humano, o que ocorreu em meados do século XIX. Estes relatos,
mostraram que comparado ao leite humano, o leite de vaca possuía um teor mais alto
de proteína, porém, teores mais baixos de lactose e gordura. Estes achados,
determinaram as primeiras recomendações a respeito da modificação do uso do
leite de vaca para lactentes humanos.
Os antigos fabricantes de alimentos para
lactentes com adição de amido (1867-1920)
Os
conhecimentos das diferenças comparativas entre o leite humano e o leite de
vaca, acarretaram na proposição de diluir o leite de vaca com água para
diminuir a concentração proteica e a adição de açúcar e creme, para aumentar o
conteúdo de lactose e gordura e, com isso, se aproximar da composição do leite
humano. Estas propostas levaram ao desenvolvimento de um número incontável de
empresas de alimentos para lactentes, mas a primeira da qual se tem notícia foi
a Liebig‘s Food, na Alemanha, em 1867, e imediatamente seguida, no mesmo ano,
pela Nestle’s Food, na Suíça. O amido de ambos os produtos foi a farinha de trigo.
Estes produtos das empresas alimentícias eram vendidos em farmácias e eram
planejados para serem utilizados sob prescrição médica (Tabela 1).
Tabela
1- Primeiras empresas de alimentação infantil
Por
outro lado, pode-se argumentar que a esterilização e a modificação do leite de
vaca para a utilização dos lactentes, e a preocupação com a mortalidade
infantil associada com a alimentação artificial, tornou-se um motivo de
sustentação para o surgimento de uma nova subespecialidade, a Pediatria.
Todos
esses alimentos para lactentes continham uma fonte adicional de amido, desde
grãos de cereais ou mesmo o carboidrato do malte. Havia inúmeras razões para
justificar a adição do amido como uma fonte adicional de calorias fornecida
pelo carboidrato. Naquela época pensava-se que a adição de amido prevenia a
formação de grandes coágulos de caseína e que também a fórmula espessada
diminuiria a quantidade de regurgitação. Além disso, o amido era mais barato
que a lactose. Vários tipos de amido eram utilizados, a saber: cevada, milho,
trigo, aveia e farinha de arroz. De acordo com alguns profissionais a cevada
era preferida porque ela produzia uma cobertura protetora das membranas da
mucosa intestinal. Naquela época já se sabia que o amido, proveniente dos grãos
dos cereais, era difícil de ser digerido e, portanto, requeria uma moagem
intensa e um cozimento extensivo. O efeito desde procedimento, resultava em um
aumento da viscosidade e a tendência de formação de um gel, ambos produtos resultavam
na elaboração de uma textura indesejável que limitava a aceitabilidade do
lactente. Estes inconvenientes desagradáveis levaram os fabricantes a
desenvolver esforços para utilizar amidos modificados, pois eles apresentavam a
vantagem adicional de serem estabilizantes eficazes, necessários para manterem
em suspensão finas partículas de alimentos. Desta forma, amidos nativos
passaram a ser convertidos de dextrina a maltose e dextrose durante o processo
digestivo. Consequentemente, a maltodextrina tornou-se um dos primeiros amidos
modificados disponíveis.
Em
1873, havia pelo menos 27 empresas de alimentos, com amido adicionado para
lactentes, patenteadas nos EUA disponíveis no mercado (Figuras 1-2-3).
Amido modificado na alimentação para o
lactente nas fórmulas pré-industrializadas: 1915-1950
Em
1912, Mead Johnson, produziu o primeiro mais importante produto de alimentação para
o lactente comercialmente disponível, um amido modificado, a Dextri Maltose. Este
produto, um carboidrato em pó solúvel obtido da hidrólise parcial do amido da
batata tornou-se disponível para ser adicionado ao leite de vaca (Figura 4).
Em
1915, a Dextri Maltose tornou-se o carboidrato predominantemente utilizado
pelas empresas de alimentação para o lactente, obtida naquela ocasião do xarope
de milho, devido a indisponibilidade do amido da batata alemã, em virtude da
eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-18).
A
primeira fórmula “moderna” baseada em calorias foi desenvolvida entre 1915-1919,
a qual fornecia 67kcal/dl elaborada com leite de vaca desnatado e lactose, óleo
animal e óleos vegetais. Este produto
foi comercializado como um leite sintético adaptado (SMA) e foi considerado o
precursor de todas as fórmulas modernas.
Referências
Bibliográficas
1-
The
History of Maltose-active Disaccharidases – Michael J. Lentze
JPGN 66: Supplement 3, S4, 2018
2-
Use
of Starch and Modified Starches in Infant Feeding: A Historical Perspective –
Frank R. Greer
JPGN 66: Supplement 3, S30, 2018